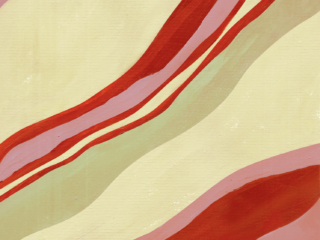Resistência sem perder a ternura
A jornalista Bela Reis se define como antirracista e feminista e divide por aqui o que há de mais precioso em sua estante (e também muito para além dela)
Por Layse Barnabé de Moraes
Fotos Victor Curi
Jornalista, antirracista e feminista, Bela Reis fala uns negócios legais, como ela mesma faz questão de deixar claro em sua bio do Instagram, rede em que divide com mais de 30 mil seguidores os seus textões e a sua visão de mundo.
Bela começou a se envolver com a militância, e principalmente com o feminismo, ainda no Ensino Médio: “Eu me encontrei, no sentido de dar nome às coisas que eu já sentia. Eu tive uma criação muito feminista, que não tinha esse nome, mas pregava os pilares da igualdade”, conta ela. Filha da jornalista Flávia Oliveira, da Globo News, Bela acabou seguindo o mesmo caminho da mãe: “É a faculdade que eu deveria ter feito”, ela conclui.
Essa história de dividir seus pontos de vista com outras pessoas começou no Facebook, onde ela falava sobre questões polêmicas variadas conforme aconteciam: “Como eu cresci num universo de classe média e convivo com classe média alta (estudei em um colégio particular a vida inteira), tudo aquilo que eu falava era muito novo e as pessoas começaram a curtir, compartilhar e vários textos viralizaram”. O revés disso, segundo ela, foi o sentimento constante de ter que manifestar opinião sobre tudo: “As pessoas esperam que você comente absolutamente tudo. E isso é um mix de sentimentos: eu me sentia muito valorizada, mas era muita pressão, porque às vezes a gente não quer falar sobre um assunto. Para essas pessoas, o que é muito interessante e curioso traz algum tipo de sofrimento para a gente. E daí eu comecei a surtar”.
Nessa época, em 2014, Bela começou a sentir os impactos do stress on-line ganharem uma dimensão física: dores no corpo, mau humor e uma quantidade de brigas na web que crescia quase que descontroladamente: “Eu fui diminuindo isso e me posicionava quando realmente achava relevante, mas não mais com aquela intensidade. E eu estava muito bem, obrigada, até levar isso para o Instagram (risos)”.
Do ano passado para este, seu perfil na rede, que tinha menos de 2 mil seguidores, saltou para os mais de 30 mil de atualmente devido à constante viralização de textos seus, compartilhados inclusive por perfis de influencers e famosos: “É muito bom e me realiza falar de coisas que tocam o meu coração e que eu acho importantes. Eu recebo muitas mensagens lindas e queridas de mulheres muito mais velhas e também de meninas de 13 anos… Então é uma responsabilidade muito grande”.
Bela sabe que ter saúde mental na militância é uma necessidade, porque a conta chega alta. Para ela, a solução é se desligar da tela e viver mais no mundo real: “Eu me forço e me obrigo a sair, marcar encontro com meus amigos. Eu posso estar sem nenhuma vontade, mas eu me esforço, porque sei que vou ficar bem. E sempre é assim. O meu autocuidado é sair da internet. Nem ficar vendo stories de bobeira, porque, quando você vê, está lá há uma hora. É assustador. Eu comecei a fazer crochê agora. Cismei que queria ter aqueles ecopads de tirar a maquiagem e me desafiei a fazer. Isso tem me desligado. Eu também vejo séries que não tenham temáticas feministas ou que não tratem de racismo para eu não ter que pensar nisso. Eu tento ver essas coisas, tento sair de casa, vou à cachoeira ao final de semana, que é uma coisa que eu amo… Sou filha de Oxum, então eu amo cachoeira, amo fazer trilha, amo mato. É um exercício de você ficar diariamente se lembrando de fazer essas coisas: aquietar um pouco, sair do celular, ficar off-line. Então eu tento sair da internet, tento ler um livro antes de dormir…”.
Além da estante

Nesta editoria, voltada ao que há para além da estante, todo esse mundo de papel – formado de páginas, prateleiras, bibliotecas, dedicatórias, narrativas internas e externas, um mundo recheado, enfim, de afetos enfileirados e títulos de cabeceira – ganha forma e nome no livro escolhido por cada pessoa.
E é aí que chegamos ao livro da Bela: A autobiografia de Martin Luther King. “Eu era talvez a única negra do meu ano durante boa parte da minha passagem escolar. A minha vivência teve muito racismo… Mas quando você identifica o racismo, consegue não se afetar tanto, porque eu entendia que aquilo era um problema deles, não meu. Como minha mãe sempre foi militante sem ser, contando coisas, episódios da vida dela, eu percebia. Eu ganhei um boneco quando eu tinha seis anos que minha mãe deu o nome de Martin, por causa de Martin Luther King, Então assim… isso me atravessou de alguma forma. Tem um quadro do lado do meu quarto que é todo o discurso de “I have a dream”, também do Martin. Então quando você começa a se atentar a isso… Eu e minha mãe somos as únicas pessoas negras que moram nesse prédio. E na rua, na vizinhança e na academia. Nos espaços que a gente ocupa e nos lugares que a gente vai, só tem brancos, porque são espaços da elite carioca”, conta ela.
Bela confessa que, devido a esses discursos preconceituosos que a cercavam e a todo o racismo institucional, ela chegou a passar até mesmo por um processo de embranquecimento, alisando o cabelo e parando de tomar sol, mas que, assim que começou a tomar consciência do que a motivava a fazer aquilo, não deixou isso ir mais longe: “Ter consciência me preservou de me apagar mais e também foi menos doloroso o processo de mergulhar na militância. Eu não tive aquela grande dor de me descobrir negra porque eu sempre soube. No ambiente em que eu frequentava, nunca deixaram que eu não soubesse. Mas começar a falar sobre isso foi um processo e falar sobre isso, até hoje, é uma coisa que nunca é confortável e acho que nunca vai ser, porque você nunca está falando de um lugar de vitória, é sempre do lugar da desigualdade e do sofrimento… Minha mãe fez um mapeamento de DNA e descobriu que nossa linhagem materna é da tribo Balanta [que significa “aqueles que resistem”], do território da Guiné Bissau. A gente nunca saberia disso se não fosse o exame de DNA, porque não tem documento e a história foi intencionalmente apagada…”.
O livro

“Eu sempre gostei de Martin Luther King porque cresci vendo minha mãe falar sobre ele. Conforme fui lendo, aprendi tanto e ele virou minha bíblia. Ele é todo marcado e está surrado, coitado. Eu levo ele para todos os lugares. O que esse livro mais me ensinou foi a fazer comunicação não violenta. A gente costuma achar que não violência é passividade, é praticamente ignorar aquilo, e não é. Você lê esse livro e vê como ele escrevia sermões e cartas muito duros, mas a não violência dele era a de não quebrar tudo, como é o caso de Malcolm X, que eu também amo, e que eu acho que o fato de os dois coexistirem foi essencial para, no fim das contas, ter dado tudo certo, porque eles podiam agradar todo mundo. Um quebrava a coisa toda, como os Panteras Negras, e Martin não… ele era um pastor. Os sermões que ele dava, inclusive na igreja, têm uma entonação de religiosidade muito forte… Ele começou praticamente do zero, falando de pessoa em pessoa, e aquilo se transformou num movimento no país inteiro. A noção que ele tinha de que nem sempre você precisa ser agressivo…. ele me ensinou muito sobre o tom da militância. E o trecho que eu tatuei é do último sermão dele, da manhã do dia em que ele foi assassinado. No final ele fala: então minha vida não terá sido em vão. Desde então, eu penso: se eu estiver falando para 20 mil pessoas e uma pessoa entender, mudar pensamentos e ações, começar a reverberar isso a outras pessoas na vida dela, já valeu a pena. É óbvio que você não vai conseguir mudar o mundo inteiro, mas se você conseguir sinalizar alguma coisa para uma pessoa, isso já vale o esforço, porque isso já eterniza o que você está falando. Por isso eu tatuei a frase, com a letra manuscrita dele.”

A autobiografia de Martin Luther King, Clayborne Carson (Org.) – Editora Zahar